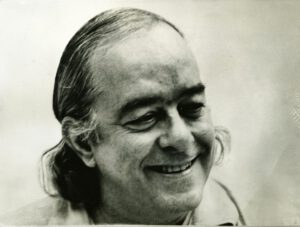, Brasília em sobrevoo. IMS Clarice Lispector, 2017. Disponível em: https://site.claricelispector.ims.com.br/2017/09/18/brasilia-em-sobrevoo/. Acesso em: 01 março 2026.
O Instituto Moreira Salles, em parceria com o Departamento de Humanidades da Universidade de Columbia, realizou o seminário internacional The Clarice factor: aesthetics, gender, and diaspora in Brazil (O fator Clarice: estética, gênero e diáspora no Brasil), acontecido em março, em Nova York.
Discussões dedicadas à escrita clariciana como perfomance, forma, som e matéria, as mesas tiveram a participação de professores-pesquisadores de diversas universidades, dentre os quais Vilma Arêas (Unicamp), Yudith Rosenbaum (USP) e Carlos Mendes de Sousa — cujo texto é disponibilizado aqui.
Brasília em sobrevoo
Carlos Mendes de Sousa¹
Hoje é domingo em Nova Iorque. Em Brasília, a fúlgida, já é terça-feira. Brasília simplesmente pula segunda-feira.
Limiares
Limiar 1 – Uma data fora do texto, 1976
Os biógrafos são unânimes ao relatar o contentamento de Clarice Lispector quando da sua última viagem a Brasília, em 1976. Clarice deslocara-se à cidade para receber o prêmio de reconhecimento pela sua obra, atribuído pela Fundação Cultural do Distrito Federal. No ano anterior, Brasília adquirira alguma visibilidade na obra da autora com a publicação de um texto sobre a cidade relativamente extenso. Terá sido esse texto que de novo conduziu Clarice a Brasília? Esta última viagem coroa simbolicamente a ligação do nome da escritora ao nome da cidade.
Limiar 2 – Datas fundadoras, aproximações: A maçã no escuro e Brasília
A maçã no escuro anuncia Brasília? Os elos aproximativos decorreriam das datas, da vizinhança dos tempos: o tempo da ideação e da construção de Brasília (1956/1960) e o tempo da criação e do aparecimento de A maçã no escuro. No fim deste livro, encontramos a nota: “Washington, Maio de 1956”; o romance apenas foi publicado em 1961. Com as devidas distâncias relativamente àquilo que não é comparável, podem encontrar-se os laços: a arquitetura e o monumental; a estranheza e o espanto; a poesia e a modernidade. Tudo isto une estas duas obras que trazem consigo uma diferença fundacional. Mas as analogias repercutem mais fundo. O que Clarice diz de Brasília talvez pudesse dizer dos seus próprios textos, e, muito especialmente, de A maçã no escuro, livro fascinante, sem esquinas, onde é preciso aprender a habitar. E o que Niemeyer diz da cidade também se poderá aplicar a Clarice: “você pode gostar ou detestar Brasília. Mas não pode dizer que viu antes coisa parecida”.
Aproximamo-nos da literatura de Clarice como nos aproximamos de Brasília. Vivi isso em 1992, depois de uma viagem de 18 horas, quando atravessei o sertão rosiano e cheguei a Brasília pela mão de Clarice; e quando vivi a intermutação dos termos: Brasília – literatura nova. Clarice – cidade nova.
O díptico
A seguir à fundação de Brasília, Clarice visitou a cidade. Na sequência dessa visita, escreveu um texto com o título “Brasília: cinco dias”, divulgado primeiramente na coluna “Children’s Corner” da revista Senhor (1963), e coligido, no ano seguinte, em “Fundo de gaveta”, a 2ª parte do livro A Legião Estrangeira. Em 1974, Clarice voltou à cidade e escreveu um texto mais extenso “Brasília: Esplendor”, publicado na antologia Visão do esplendor (1975), onde aparece posposto ao texto escrito aquando da primeira viagem.
A junção de dois textos, de tempos diversos, com a explícita referência às datas de escrita, constitui uma situação singular dentro da obra. Como transição entre os dois blocos, encontra-se um pequeno fragmento onde são explicitados os dois momentos: “Estive em Brasília em 1962. Escrevi sobre ela o que foi agora mesmo lido. E agora voltei doze anos depois por dois dias. E escrevi também. Aí vai tudo o que eu vomitei. / Atenção: vou começar. / Esta peça é acompanhada pela valsa ‘Sangue Vienense’ de Strauss. São 11, 20 da manhã do dia 13”.
Importa assinalar o fato de os dois textos reunidos sob o nome “Brasília” constituírem uma peça central no livro Visão do esplendor (1975). É notória a atenção que lhes é concedida pela autora, desde logo pelo reflexo no nome escolhido para título da antologia e pelo fato de o díptico abrir o livro. Fica-se com a ideia de que Clarice projetou um livro que acolhesse o texto resultante da visita à cidade em 1974. Também se pode pensar que tal escolha decorreu igualmente do desejo de dar um destaque ao primeiro texto, acompanhando naturalmente a seleção de outras crónicas saídas na imprensa (incluídas em Visão do esplendor).
A brevidade das duas visitas contrasta claramente com a demora do olhar sobre a cidade, expressanos textos que lhe dedicou. Entrar em Brasília pela mão de Clarice permite ver a construção da cidade como a construção de uma literatura?
O sobrevoo (1)
Se a metáfora do sobrevoo pode ser repescada em textos relativos ao planeamento da cidade de Brasília, também a encontramos em Clarice. Por exemplo, quando, em Água viva, se reporta ao modo de olhar para o texto como se visto de avião. O momento metadiscursivo (a “explicação” sobre a imagem da vista aérea) adquire aqui uma particular relevância. É a distância que permite o discernimento da ordem difícil: “Este texto que te dou não é para ser visto de perto: ganha uma secreta redondez antes invisível quando é visto de um avião em alto voo. Então adivinha-se o jogo das ilhas e veem-se canais e mares”.
Mas é preciso esclarecer desde logo que se em Clarice encontramos a metáfora, não é ela que propõe a perspectiva da leitura do sobrevoo. É claramente o ponto de vista do leitor/ crítico que conduz a essa visão. Não é difícil perspectivarmos a obra e nela encontrarmos sucessivos pontos de chegada que se constituem como pontos de partida. É fácil encontrarmos justificativas quando pensamos nos romances. No início, no meio ou na última fase, as diferenças e as semelhanças permitem-nos argumentar em função de mudanças que implicam recomeços. Penso em A cidade sitiada, em A paixão segundo G.H., em Água viva, mas podia pensar em A maçã no escuro, em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, etc. E também as coletâneas de contos podem ser entrevistas nessa perspectiva do caminho a que se chega ou de um inaugural sentido. Leio “Brasília” dessa forma, como caminho para uma revisitação, assinalando algumas conexões, alguns pontos que permitam igualmente olhar para o resto da obra.
Uma das implicações maiores da junção dos dois textos sobre Brasília num díptico decorre justamente da possibilidade que é proporcionada por uma leitura da obra em perspectiva, tendo em conta as datas em que as “crônicas” foram escritas, os contextos em que aparecem e o diálogo estabelecido com outras obras da autora. O primeiro texto remonta ao período chave em que se situa a escrita de alguns dos mais emblemáticos livros de Clarice: entre os romances A maçã no escuro e A paixão segundo G.H. e entre os livros de contos Laços de família e A legião estrangeira.
Saltam à vista as diferenças entre os dois blocos. O primeiro, mais compacto, produz um efeito de maior fechamento. Apesar da existência de elementos provocadores de estranhamento, comporta um assinalado sentido de coesão assente, em grande medida, no propósito fabular, na recriação de uma particularíssima fábula fundadora. O segundo bloco é marcado pelo estilhaçamento observável, de imediato, na configuração formal, através da presença de parágrafos muito curtos.
O primeiro texto reflete o período em que foi escrito, muito próximo da inauguração, mas, como não poderia deixar de ser, reflete-o claricianamente. A amplidão e a distância crescem na voz enunciadora que diz a estranheza do lugar. O registo deste primeiro texto remete para capítulos de A paixão segundo G.H. (como o cap. 18), mas também para os textos fragmentários da 2ª parte de A legião estrangeira, onde aparece, e ainda para outros textos da 1ª parte, como “O ovo e a galinha”.
Quanto ao segundo texto, somos de imediato levados a contextualizá-lo no quadro da produção de Clarice dos anos 70, particularmente marcada pelo signo do fragmentário. Importa considerar uma leitura em perspectiva que coloque em diálogo os textos das diversas fases, tendo obviamente em conta as especificidades dos momentos. Neste quadro, gostaria de destacar o livro Água viva, de 1973. Aqui considere-se não só o livro como nos foi dado conhecer, mas também o que representou o momento tensivo que levou à sua concretização e que tem uma expressão visível no trânsito patente no exemplar de “Objeto gritante” (datiloscrito que antecedeu este livro), assim como em testemunhos que nos permitem acompanhar esse processo (como sejam algumas cartas trocadas a propósito da publicação desta obra, concretamente com José Américo Motta Pessanha). É importante sobretudo assinalar que se vai operar uma espécie de deslaçamento ou uma nova direção muito expressiva nos textos publicados a partir de 1974. A propósito, veja-se como, logo após a saída de Água viva, esta obra foi analisada em função da novidade, nas diferenças e também nas semelhanças (em modo de concentração). No início de 1974, numa resenha publicada na Tribuna da Imprensa, Reynaldo Bairão destacou a renovação formal do livro, dando conta do fato de, simultaneamente, nele se apresentar “uma espécie de súmula de toda a obra de ficção anterior”.
Pretendo mostrar que a “Brasília” de Clarice é um lugar onde, como que distraidamente, mil portas se abrem. Nesse modo de se apresentar a cidade, toda a Clarice está lá dentro afinal. Como quem não quer a coisa, no mesmo plano, o alto e o baixo, as questões autobiográficas e identitárias, literatura e verdade, vida e morte; mas também a brincadeira e o humor, o desconcerto e a deflação.
No princípio… a fábula
No primeiro bloco, Brasília aparece associada à luz e à cegueira, à gelidez do cristal. A incidência da luz crua realça o desterro. Fala-se da cidade soterrada que se ergue dos escombros; foi a natureza que se encarregou de a esconder até que reaparecesse um dia. É este o móbil da fábula. Pode falar-se de uma teoria dos estratos (o passado, o presente, o futuro) determinantes na configuração e na existência da cidade. Representa-se uma cidade que cumpre os atributos do lugar mítico circular: a concretização de uma abstracção ou idealização (“redonda e sem esquinas”).
Vejam-se as implicações da fábula fundadora, na escrita de Clarice, e o modo como a própria escritora vai desconstruir essa visão. Encontramos o reenvio para um passado fantástico reinventado a partir de dados reais: “Olho Brasília como olho Roma. Brasília começou com uma simplificação final de ruínas”. Os elementos que se reportam a uma realidade empírica ancoram numa historicidade reconhecível, mas o trânsito dominante é o da amplificação superadora dessas referências. Uma Antiguidade florescente (o séc. IV a. C.) mesclada com um presente intemporal reenvia-nos para o livro A cidade sitiada, um dos romances da fundação (do nome próprio, da escrita). A dado momento, diz-se de Lucrécia que é “grega numa cidade não erguida”, encontrando nomes para as coisas, ressonância que ecoará extraordinária e sumptuosamente amplificada no referido cap. 18 de A paixão segundo G.H.
No primeiro parágrafo do primeiro bloco de “Brasília”, a autora vivencia, por breve período, o impacto da cidade nova. O relato enfatiza esse olhar. A convocação da fábula fundadora (para dar conta do que se vê e sente) sublinha o momento auroral (apoiado na analogia primeira: a criação do mundo), e os leitores de Clarice Lispector, por seu turno, não podem deixar de convocar a obra da autora (em concreto a fase inicial, onde se encontram muitas revisitações dos mitos fundadores). Aqui repercute a questão da desterritorialização operada pela sua literatura. Nesse sentido ganha força a identificação entre e Clarice e a cidade de Brasília: grega, romana e brasiliária ela também. Os confrontos com o lugar da estranheza são a estranheza de si. O foco da observadora desvela a sua condição alienígena que põe em marcha continuamente a autoconsciência e a alteridade propulsoras.
A viagem
A visão de Brasília é uma visão de hóspede a partir da perspectiva do Rio de Janeiro. E no entanto é Brasília a cidade que suscitou um texto mais longamente concentrado.
As interrogações sobre o Brasil, as tentativas de compreender o país a partir desse estranho lugar, que é a nova cidade, são recorrentes na década de 60. Lembro diferentes olhares de fora, de alguma forma coincidentes, como o do sociólogo Max Bense, que se debruça sobre o cartesianismo e a amálgama, ou o da poeta Sophia de Mello Breyner Andresen, que fala da cidade “lógica e lírica”. No próprio Brasil são recorrentes as visões que dão conta do estranhamento. Cite-se como exemplo a curta-metragem de Joaquim Pedro de Andrade – “Brasília: contradições de uma cidade nova”.
O interesse por Brasília é algo que naturalmente implica todos os brasileiros. Mesmo assim importa perguntar: porquê uma tão explícita e demorada atenção a uma cidade? Não é difícil fazer-se um levantamento muito completo da geografia clariciana. Mesmo de cor, quem conhece a obra pode apresentar um quadro que sucintamente permite aceder a uma síntese onde se destacam vários lugares da cidade do Rio de Janeiro.
Convém não esquecer o sentido fundador integrado no arco que a construção da obra apresenta. A cidade, nos primeiros livros, é a cidade com mínimas referências a uma qualquer vinculação de ordem geográfica localizável. No livro de 1949, em cujo título genericamente aparece a palavra “cidade”, impõe-se uma certa atmosfera, de paisagem cruamente extraterritorial, isto é, prevalecentemente abstrata.
Dos lugares mapeáveis e das impressões objectiváveis, em “Brasília”, depressa somos confrontados com as linhas de fuga. O motivo das deslocações repercute nos textos: das ressonâncias familiares da primeira viagem (na referência aos filhos) à explicitação dos motivos da segunda deslocação (a conferência pronunciada). Não podendo aqui apresentar exaustivamente a presença do mapa, vejamos exemplos do início do segundo bloco. Lemos num parágrafo, que se reporta à visita à igreja de D. Bosco, a admiração pelos vitrais “esplêndidos”, a imobilidade contemplativa: “tem vitrais tão esplêndidos que me quedei muda sentada no banco, não acreditando que fosse verdade”. Mas logo se refere uma dissonância e sugere-se um propósito de ação: “O único defeito é o inusitado lustre redondo que parece coisa de novo rico. A igreja ficaria pura sem o lustre. Mas que é que se há-de fazer? Ir de noite, bem no escuro, roubá-lo?”. O texto progride ao lado do mapa: “Depois fui à Biblioteca Nacional”; progride com as referências às sensações, com as referências àquilo que marca o contato da escritora visitante e com o modo de interagir com elementos definidores da cidade; progride com as referências precisas à fome que sente, ao frio, à luz, ao ar seco. Muito depressa, a narração vai-se deixando contaminar por aquilo que desconcerta, aquilo que escapa ao convencionalismo do relato de viagem ou da crónica: “Que fome, mas que fome. Perguntei se havia muito crime na cidade. Disseram-me que no satélite de Grama (é mesmo este o nome?) há uns três homicídios por semana. (Interrompi os crimes para comer)”.
Trânsitos, hospedagem
A visita à cidade e o regresso pressupõem um movimento que se impõe no relato e que releva o signo da hospedagem. Assinalem-se dois aspectos relacionados com esta questão: o contraponto com outras cidades, outros lugares convocados no texto, e a questão brasileira. O signo da hospedagem é particularmente atuante no segundo bloco (“Brasília: esplendor”), marcado pela pendularidade entre o Rio de Janeiro e Brasília, um movimento que ritma todo o texto. Observa-se contudo uma mescla que por vezes parece gerar confusão e que implica o trânsito entre as duas cidades – o local onde se chega e o lugar de onde se partiu e aonde se regressa.
Vejamos os quatro primeiros parágrafos do segundo bloco. A extensão dos dois primeiros é similar. O terceiro parágrafo diminui de tamanho e o quarto é muito mais curto. Uma frase apenas: “Páro um instante para dizer que Brasília é uma quadra de ténis”. Depois desta pausa, o parágrafo seguinte começa assim: “Faz lá um friozinho revigorante”. O advérbio aponta para o lugar que é objeto da atenção. É a partir daqui que ocorrem algumas contradições, do ponto de vista enunciativo, apontadas pela própria autora, sobre os tempos de escrita e sobre os lugares. “Estou falando do Rio. Alô, Rio! Alô! Alô!”; “Amanhã volto para o Rio, cidade turbulenta de meus amores”. “No Rio, na copa de minha casa, matei um mosquito que tremulava no ar.” “Amanhece aqui no Rio.”; “Brasília tem gnomos? / A minha casa no Rio está cheia deles”. Em Brasília, Clarice encontra um mundo à sua imagem, uma terra que possa pisar. Paradoxalmente a cidade permite o regresso ao lugar onde a exilada se reconhece. Ronda o ameaçador anjo da expulsão, mas está ausente.
A aproximação a Brasília pode dar-se pelo significado político da nova capital. Nas crónicas de Clarice no JB, deparamos algumas vezes com a preocupação face à questão nacional. Gilberto Figueiredo Martins, no livro Estátuas Invisíveis. Experiências do espaço público na ficção de Clarice Lispector (São Paulo, Edusp, 2010), apresenta uma leitura sob este foco, dando conta de uma diferença no segundo texto face ao primeiro, que reflete o momento político. A lei da cidade hospedeira impõe-se em alguns momentos e suscita o confronto. Lemos aí a referência à “Brasília implacável” e ao implacável olho verde, à cidade que “prende” e que desapossa de documentos, identidade, veracidade e hálito íntimo, enfim, à cidade que a conduz ao crime. Mas já em 1962, Clarice falava do “estado totalitário”. Quando entrevistou Oscar Niemeyer, confrontou-o com este juízo: “- Eu uma vez escrevi: ‘A construção de Brasília: a de um estado totalitário’. Que é que você acha dessa minha impressão, Oscar?”. Na mesma entrevista, surge a preocupação relativamente ao modo como a cidade poderia levar a cabo a concretização do ideal democrático consonante com o projeto arquitetônico. Em 1972, quando entrevistou Paulo e Gisela Magalhães, arquitetos que trabalhavam em Brasília, afirmou claramente: “Quando há anos estive lá, pareceu-me uma cidade desertada pelas gentes”: E mais: “Minha impressão primária, já bem antiga […] e que vi no começo de Brasília, foi a de uma cidade do farwest dos filmes, com saloons e tiroteio”.
A deslocação é feita para um lugar que suscita reflexão. O retorno ao ponto de partida é um estar dentro, mas simultaneamente fora. No regresso, como se fosse um improviso, irrompe uma torrente de memórias, num registo de imagens fugidias. A aceleração projeta espelhos multiplicadores, um modo de escapar à fixidez.
Os contrapontos encontram, por oposição, referentes precisos: Nova York, Capri, Bahia, Ceará, Recife, Lisboa… Que tempo faz? Como se vive? Se Brasília aponta para uma dimensão trans-histórica e trans-temporal, a habitante da terra Clarice Lispector pede também que haja lugar para o terreno banalizado.
A escrita, o texto: hibridismos
As referências esperáveis num texto cronístico, as impressões objetivas e as notações referenciais de diversa ordem (geográfica, arquitetônica, climatérica, social, etc.), tudo o que é do domínio do fatual projeta-se numa outra esfera. Continuamente somos transportados para o domínio da superação e da transmutação. O frio, a luz, a cor da terra, as árvores, o trânsito, etc. são transformados em signos claricianos. Tudo é o salto para a visão amplamente pulverizada, para a ultrapassagem do imediato. Entrelaçam-se continuamente os dados fatuais com as alusões fantásticas, como quando entre parênteses a narradora afirma que interrompeu “os crimes para comer”. Ou quando se diz que os ratos de Brasília comem carne humana.
Na visão proposta, ecoa permanentemente o impulso criador: “minha insónia sou eu, é vivida, é o meu espanto”; “Eles ergueram o espanto inexplicado. A criação não é uma compreensão, é um novo mistério”.
Pode então afirmar-se que a “Brasília” de Clarice é espelho da escrita: a autora capta a cidade no seu tempo, que é o de uma estranheza reconhecida. Em espelho, na cidade encontra-se a si própria. Por todo o lado, nós, leitores, fazemos o reconhecimento, ao lermos os lugares, os tópicos do universo lispectoriano. Lugares em perspectiva: o mundo é de tantas maneiras quantas aquelas que Lispector nos diz que pode ser visto e tantas mais quantas nós, lispectorizados, o passamos a ver.
“Brasília” é onde género não pega mais, é desde sempre toda a obra a escapar ao rótulo. É em Água Viva que encontramos o gesto assinalado, a máxima “gênero não me pega mais”. Aliás a gestação deste livro dá conta do processo e traz essa marca explicitada. Numa página que se segue à folha de rosto do datiloscrito “Objeto Gritante”, atente-se no que poderia ser um rascunho para uma nota proemial semelhante às que aparecem em A Paixão segundoG.H. ou Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres (os romances imediatamente anteriores). Entrecruzam-se dois texto snessa página; a cor da tinta é diferente:
Este é um anti-livro. O núcleo é “it”.
Se você considerar isto aqui mais do que carta, fique ciente de que é um anti-livro.
Mas frase “gênero não me pega mais” podia ser colocada como legenda à entrada da obra, logo em Perto do Coração Selvagem. E a indicação para “Objeto Gritante” dialoga especialmente com “Brasília” se pensarmos nas aproximações com outro texto de difícil classificação “O relatório da coisa”, que, quando publicado na coluna do JB, recebeu o nome “Objeto: anticonto”. Clarice apresentou aí uma nota explicativa:
“Nota: este relatório-mistério, este anticonto geométrico foi publicado na revista Senhor, de São Paulo. Na sua apresentação, Nélson Coelho diz que tento matar em mim a escritora. Cita vários escritores que tentaram o suicídio da palavra escrita. Nenhum deles conseguiu. ‘Como Clarice não conseguirá’, escreve Nélson Coelho.
O que tentei com essa espécie de relatório?
Acho que queria fazer um anti-conto, uma anti-literatura. Como se assim eu desmistificasse a ficção. Foi uma experiência valiosa para mim. Não importa que eu tenha falhado. Chama-se: Objeto”.
A este propósito é interessante relevar a integração de “Brasília” no volume Todos os contos, organizado por Benjamin Moser. A plurivocidade de registos (do conto à crónica, do ensaio ao diário) acolhe a abertura no plano enunciativo.
Signos de fuga: a Brasília espectral, a interrogação, a assunção da própria morte
Em oposição ao cimento armado, aos edifícios monumentais, à solidez, ao terroso, à solenidade da abertura da cidade nova, nascida do nada, surge a cidade espectral que se esfuma, a cidade que levita, a flutuação, o difuso: “Estarei sendo levitada? Brasília sofre de levitação”. O que causa a perda? O que fantasmaticamente desaparece? Em jogo permanente está o que se consegue mostrar e o que escapa ao sujeito da percepção. Evidencia-se o pendor indagativo, as enunciações associadas à ideia de fuga. Porquê colocar as questões? Porquê Brasília? O texto está pejado de interrogações. E a todo o momento esbarramos na enunciação dubitativa que desemboca nas premissas duplas.Pressupõem sempre mais do que um caminho. Até mesmo a possibilidade de voltar atrás no juízo e de ficar com a não-resolução:
Será que em Brasília tem faunos? Está resolvido: compro é chapéu verde para combinar com o meu xale. Ou não compro nenhum? Sou tão indecisa. Brasília é decisão. Brasília é homem: E eu, tão mulher. Vou andando às trambolhadas. Esbarro aqui, esbarro ali. E chego enfim.
Já resolvi: não preciso de chapéu nenhum. Ou preciso? Meu Deus, que será de mim?
disse ou não disse […]?
Eu disse ou não disse que Brasília é uma quadra de tênis? Pois Brasília é sangue numa quadra de tênis. E eu? onde estou? eu? pobre de mim, com o lençol manchado de escarlate. Me mato? Não. Vivo como bruta resposta. Estou aí para quem me quiser.
A assunção da própria morte é outro assinalado signo de fuga. Ver-se-á como a estranha formulação “morri” apresenta em si uma impossibilidade ontológica. Tudo é velozmente percebido – de repente, tudo é passado, esquecimento e o que a velocidade nos deixa entre as mãos é um pequeno tempo esvaziado. No primeiro bloco, o olhar de espanto sobre a cidade recém-nascida projeta-se em viagens no tempo, concretamente num futuro além morte e num passado fabulosamente reinventado:
– Quando morri, um dia abri os olhos e era Brasília. Eu estava sozinha no mundo. Havia um táxi parado. Sem chofer. Ai que medo.
– Mamãe, está bonito ver você em pé com esse capote branco voando. (É que morri, meu filho).
A desarmante e obsessiva enunciação da própria mortalidade abre os lugares de fuga, os lugares fantasmáticos. No segundo bloco, retoma-se este comparecimento expandido em formulações cada vez mais desconcertantes em que se mistura o humor e o tom elevado:
Eu. A fantasmagórica. Meu nome não existe. O que existe é um retrato falsificado de um retrato de outro retrato meu. Mas a própria já morreu. Morri no dia 9 de Junho. Domingo. Depois de ter almoçado na preciosa companhia dos que amo. Comi frango assado. Estou feliz. Mas falta a verdadeira morte. Estou com pressa de ver Deus. Rezem por mim. Morri com elegância.
Vou durar ainda. Ninguém é imortal. Vê lá se encontra um que não morre. / Morri. Morri assassinada para pesquisar. Rezem por mim porque eu morri de costas.
Vozes, ritmos, respirações, fluxos. O brainstorm
O encontro com a cidade de Brasília suscita uma deflagração que brota da energia anárquica da voz. Um fluxo, um manifesto contra a cidade programada. Vejam-se expressões, palavras, recursos gráficos – uma criatividade explosiva (contrariamente ao que se escreve sobre Berna ou sobre outros lugares, nos antípodas de Brasília). Veja-se a estranheza das formulações que dão conta da extraordinária inventividade: “Eu te amo, oh extrósima! Oh palavra que inventei e que não sei o que quer dizer”. Podem arrolar-se exemplos, entre muitos outros. Como o parágrafo com a frase destacada: “Brasília é um olho azul cintilanterríssimo que me arde no coração”.
O discurso progride com admirável à vontade. Brasília é uma máquina produtora de imagens. Desenrolam-se os fios, desmantelando-se (fintando, driblando) os lugares-comuns. A dualidades e as alternâncias dominam: da imagem exaltada, glorificada, à figura humilhada. As percepções espontâneas associam-se ao relato do imprevisível. As constelações semânticas suscitam perspectivas sobre perspectivas.
Brasília permite uma série de cruzamentos, de jogos, de entrelaçamentos. Texto-encruzilhada: notas referenciais, relatos fantásticos, fragmentos autobiográficos, tiradas humorísticas, paródicas. É grande a relevância em todo o texto deste centramento cosmofágico: “Peço humildemente socorro. Estão me roubando. Todo o mundo é eu? Espanto geral.” Imediatamente a seguir lê-se: “Isto não é ventania não, senhor, é ciclone”. Mais à frente: “A máquina monstruosa. É um telescópio. Que ventania. É ciclone? É.” A intensidade é o grau em que Clarice se investe. Ela é ciclone. Ao serviço da novidade estilística, que marca a fuga e o estilhaçamento do texto, encontramos recursos que enrolam e desenrolam as frases: as palavras com hífens no interior de sílabas ou letras (um modo de as tornar mais audíveis?), as frases incompletas, as formulações diferentes (“Lá as pessoas se jantam e se almoçam – é para ter gente que as povoe), as repetições muito marcadas: “Bem disposta, bem disposta, bem disposta, sinto-me bem”. A experimentação, a renovação da linguagem não são gratuitas. A percepção do sujeito enunciador é desconcertante e apoia-se na segmentação, na acumulação, nos encadeamentos impertinentes, no ritmo alucinado, nos símiles estranhos, no retrato perturbador.
Em “Brasília”, como em “O relatório da Coisa” ou mesmo antes em “O ovo e a galinha”, ganha força a figura do brainstorm, que Clarice adotará em textos da última fase. Em Onde estivestes de noite aparece mesmo uma “Tempestade de almas”. Há frases soltas que ecoam em Brasília, pensamentos que se cruzam, incertos dizeres, aforismos, vozes, ecos (encontramos uma passagem em que a narradora se apresenta como receptáculo de vozes que regista), jogos e trocas de palavras (“Seus”, em vez de Deus; e iulf em vez flui).
Sou as palavras que ouço; somos as vozes que ouvimos. No vórtice das falas, os sonhos erguidos diante nós, as ínfimas (ou infinitas) perguntas em proliferação. No redemoinho para que o relato nos atira, de vez em quando, impõe-se uma paragem, uma flecha ou um flash, uma cintilação ou imagem inusitada, antes do regresso ao turbilhão:
Eu não passo de frases ouvidas por acaso. Na rua, ao atravessar o trânsito, ouvi assim: “Foi por necessidade”. E no cinema Roxy, no Rio de Janeiro, ouvi duas mulheres gordas dizerem: “De manhã ela dormia e de noite acordava”. “Ela não tem resistência física”. Em Brasília tenho resistência física, enquanto no Rio sou meio mole, meio doce. E ouvi a frase seguinte das mesmas mulheres gordas que eram baixas: “Que é que ela tem que fazer lá?” E foi assim, minha gente, que fui expulsa.
A complexidade do brainstorm clariciano, que acolhe uma diversidade de estratos, assenta em movimentos tensivos de uma mescla de registos surpreendente: do clima fantástico associado ao humor crítico e às referências autobiográficas constantes, à coabitação de referências literárias díspares. Como no registo das crónicas, mas muito mais liberto. Assinale-se a força do discurso telegráfico e do discurso espontâneo, a transcrição de registos em outras línguas (em especial o inglês), a transcrição das palavras silabadas:
Quero voltar a Brasília para o apartamento 700. Assim ponho o pingo no “i”. Mas Brasília não flui. Ela é ao contrário. Assim: iulf (flui).
Iulf ao contrário. Como o discurso flui! A denegação diz a centralidade. Clarice não é discurso rebarbativo, não é pedras duras na boca. É água que flui, água densa de estrelas e jóias raras, água de beber, água de vida. A narradora é apanhada pela poderosíssima força impregnante da cidade. É o efeito atordoador (a inexplicabilidade do lugar) que, em parte, desencadeia a torrencialidade do discurso.
Projeções: o sobrevoo (2)
Há um entrecruzamento de muitos eixos em “Brasília”. Mais do que em qualquer outro texto próximo deste (pense-se em “O ovo e a galinha”, “O relatório da coisa” ou “Onde estivestes de noite?”) existe aqui um caminho que é o do anúncio de A Hora da Estrela. Também se pode entrever em “Brasília” uma geminação evidente com Um Sopro de Vida: o diálogo e as intertrocas entre o “Autor” e “Ângela” estão no mesmo plano do diálogo da narradora de “Brasília: esplendor” com a cidade.
Quase no final do segundo bloco, lemos: “Sou inocente e ignorante. E quando estou em estado de escrever, não leio. Seria demais para mim, não tenho força”. Declarações desta ordem antecipam a chegada do alter-ego Rodrigo S.M. (entrevista igualmente em A via crucis do corpo, na personagem Cláudio Lemos). Aquilo que no início do primeiro bloco de “Brasília” era um reflexo de espelhos (a autora falava do mistério da criação dos arquitetos, falando de si), é agora explicitado pendor meta-literário. São similares as reversibilidades (“tanto nós nos intertrocamos”) e são muitas as semelhanças encontradas no domínio da reflexão metadiscursiva. Veja-se a proximidade nas fórmulas:
Brasília – É uma aventura: me deixa face e face com o desconhecido. Vou dizer palavras. As palavras nada têm a ver com as sensações. Palavras são pedras duras e as sensações delicadíssimas, fugazes, extremas.
A hora da estrela – “O seu ritmo é às vezes descompassado. E tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura – fatos são pedras duras e agir está me interessando mais do que pensar, de fatos não há como fugir”.
Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como aços espelhados.
No plano enunciativo, a relação da narradora (a escritora Clarice Lispector) com a cidade é muito próxima daquela que o narrador Rodrigo S.M. estabelece com Macabéa:
Brasília é magra. É toda elegante. Usa peruca e cílios postiços. É pergaminho dentro de Pirâmide. Não envelhece. É coca-cola, meu Deus, e vai me sobreviver. Que pena. Para a coca-cola, é claro.
Mas que nariz bonito Brasília tem. É delicado.
O texto apresenta-nos personagens reais e fictícias (na biblioteca, no aeroporto, no avião) e revela a Brasília personagem. Com liberdade, e num registo repleto de humor, a narradora interpela a cidade, fala com a cidade, para distanciadamente melhor a contemplar. O desvelamento decorre da perseguição e saturação da figura, procedimento obsessivo lispectoriano por excelência.
É muito marcado o signo da privação: cidade sem esquinas / não tem botequim para a gente tomar um cafezinho / É verdade, juro que não vi esquinas. / Em Brasília não existe cotidiano. Na cidade asséptica, o erro foi erradicado. Reivindica-se uma revisão. Porque a habitabilidade, o lugar do humano, pressupõe a fundamental incorporação do erro. No final de um parágrafo lê-se uma espécie de máxima: “Brasília é uma piada estritamente perfeita e sem erros. E a mim só me salva o erro”.
Através do jogo, da paródia e do humor, procura-se continuamente resgatar a falha. Também aqui somos conduzidos às aproximações com muitas das personagens claricianas, especialmente Macabéa:
Brasília é Marcha Nupcial. O noivo é um nordestino que come o bolo inteiro porque está com fome há várias gerações. A noiva é uma velha senhora viúva, rica e rabugenta. Deste insólito casamento que assisti, forçada pelas circunstâncias, saí derrotada pela violência da Marcha Nupcial que parece Marcha Militar e que me mandou me casar também e eu não quero. Saí cheia de band-aids, com o tornozelo torcido, a nuca doendo e uma grande ferida me doendo no coração.
E no entanto o desafio que a cidade pede é da ordem do risco. Aqui se encontra mais um dos fortes traços identificativos com o universo clariciano:
Brasília é arriscada e eu amo o risco. É uma aventura: me deixa face e face com o desconhecido. Vou dizer palavras. As palavras nada têm a ver com as sensações. Palavras são pedras duras e as sensações delicadíssimas, fugazes, extremas.
Uma das mais expressivas recorrências – a tentativa de dizer pela predicação – traduz uma impossibilidade (“Brasília é…”). Que outra coisa pode querer dizer essa insistência? No segundo bloco, a irrupção dessas tentativas reforça a impossibilidade de descrição: “Está se vendo que não sei descrever Brasília”. Como em toda a obra, anda-se à volta de um objeto ou pessoa, procura-se incessantemente atingi-lo sem se conseguir chegar ao núcleo.
No jogo de aproximações, assinalem-se dois elementos: a cadeira do dentista e a quadra de ténis. A máquina do dentista em Brasília, um motivo recorrente, conduz-nos à dor de dentes, a “coisa de dentina exposta” de A Hora da Estrela. A referência à quadra de ténis aparece num conto de Onde Estivestes de Noite, “A partida do trem”, texto que ocupa um papel assinalável no domínio das inter-relações estabelecidas entre textos da última fase. Na estrutura dual que o conto apresenta, a figura de Ângela Pralini está diante de D. Maria Rita, mas projetando um diálogo com a personagem ausente, Eduardo. O sentido atribuído à caracterização da personagem está próximo daquele que começa por ser convocado para descrever a cidade, na primeira ocorrência: “Paro um instante para dizer que Brasília é uma quadra de ténis.” A complexificação manifesta-se no avançar do texto:
Eu disse ou não disse que Brasília é uma quadra de tênis? Pois Brasília é sangue numa quadra de tênis. E eu? onde estou? eu? pobre de mim, com o lençol manchado de escarlate. Me mato? Não. Vivo como bruta resposta. Estou aí para quem me quiser.
E mais à frente: “Lembram que falei na quadra de tênis com sangue? Pois o sangue era meu, o escarlate, os coágulos eram meus”. O processo de identificação aqui patente é o que vamos ler nas enunciações reversíveis de Rodrigo S.M. diante de Macabéa. E se o sangue pode ter uma leitura política, na desmontagem do cenário opressivo da ditadura militar, como pretende Gilberto Figueiredo Martins (cf. Estátuas invisíveis), esse sangue diz também o reenvio à essência do ser e à experiência dos limites – a obsessão pelo âmago, pelo núcleo da vida:
De onde no entanto até sangue arfante de tão vivo de vida poderá quem sabe escorrer e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história o meu coágulo? Que sei eu. (A hora da estrela)
Quem fala é a personagem Rodrigo S.M. que, na “Dedicatória do Autor (na verdade Clarice Lispector)”, escreve: “Dedico-me à cor rubra muito escarlate como o meu sangue de homem em plena idade e portanto dedico-me a meu sangue”.
Poderíamos continuar a arrolar exemplos. Lembro apenas o final de “Brasília”, tão próximo do fecho do último romance:
Eu sei morrer. Morri desde pequena. E dói mas a gente finge que não dói. Estou com tanta saudade de Deus.
E agora vou morrer um pouquinho. Estou tão precisada.
Sim. Aceito, milorde. Sob protesto.
Mas Brasília é esplendor.
Estou assustadíssima.
Desvelamento
Em “Brasília”, assume-se uma voz declaradamente autobiográfica, ainda que essas notações irrompam aqui de uma forma solta, muitas vezes de forma despercebida. Os procedimentos indagativos sublinham o propósito de ocultação e desvelamento da figura do escritor e dos processos de escrita. São múltiplas as referências à Clarice-mãe, ao cão Ulisses, que ocupa um espaço privilegiado neste texto, à coca-cola, aos taxistas, às empregadas, à cartomante D. Nadir do Méier…
Desvelamentos? Alguns. Outras vezes a latência que nos suscita a interpretação: “Ai, coitadinha de mim. Tão sem mãe. É coisa da natureza. Sou a favor de Brasília”.
No quadro das explicitações, recorde-se a título de exemplo a comparência direta de tópicos de forte ressonância no universo lispectoriano: “Como eu disse ou como não disse, quero uma mão amada que aperte a minha na hora de eu ir”. E é em “Brasília” que surgem auto-caracterizações lapidares que serviriam de mote aos biógrafos. Olga Borelli retrata: “Seu porte tinha algo da humildade de uma camponesa mesclada à altivez de uma grande dama”. Na voz de Clarice lemos aqui: “Ora essa, sou uma mulher simples e um pouquinho sofisticada. Misto de camponesa e de estrela no céu”. Acima de tudo, o que se persegue em “Brasília” é o que se persegue em toda a obra: o encontro do eu com o eu. Uma busca que encontra aqui uma expressão maximizada na interrogação em torno da figura-emblema da escrita clariciana: “Brasília é guindaste alaranjado pescando coisa muito delicada: um pequeno ovo branco. Esse ovo branco sou eu ou uma criancinha que nasce hoje?”.
¹ Carlos Mendes de Sousa
Doutor em Ciências da Literatura, pela Universidade do Minho. É professor associado do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos, no Instituto de Letras e Ciências Humanas, da Universidade do Minho, Portugal, onde tem se dedicado ao estudo da literatura brasileira e da poesia portuguesa moderna e contemporânea. Autor, entre outros livros, de Clarice Lispector. Pinturas (Rocco, 2013); Miguel Torga: o chão e o verbo (Sabrosa / Espaço Miguel Torga, 2014); Clarice Lispector. Figuras da Escrita, (Instituto Moreira Salles, 2012) e O Nascimento da Música. A Metáfora em Eugénio de Andrade (Almedina, 1992).