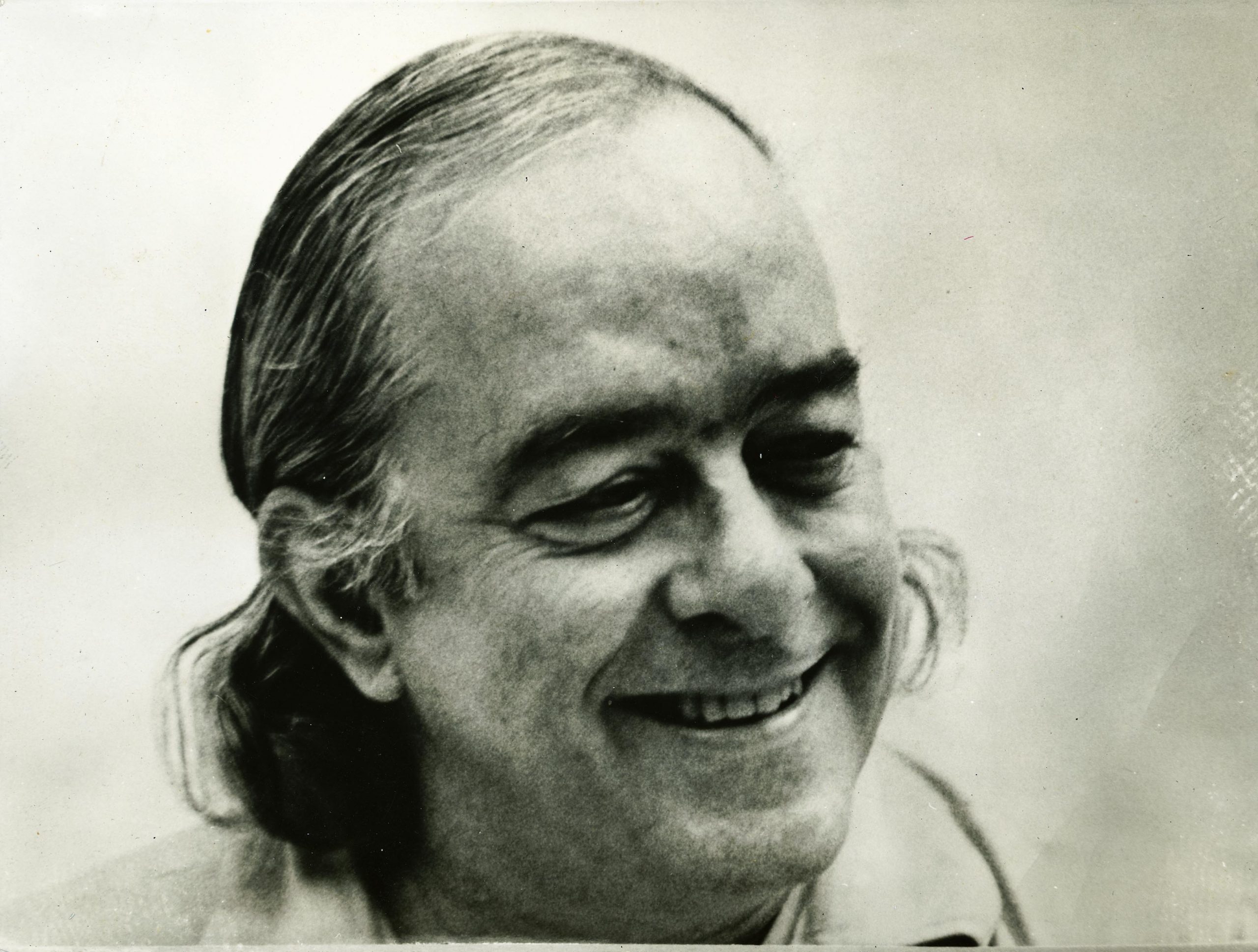, A conversão pelo ódio. IMS Clarice Lispector, 2019. Disponível em: https://site.claricelispector.ims.com.br/2019/12/04/a-conversao-pelo-odio/. Acesso em: 27 julho 2024.
Caetano Veloso conta que quando mostrou sua canção “Odeio”, que seria incluída no álbum Cê, ainda ao violão, para o amigo e compositor Jorge Mautner, este teria chorado e lhe dito que aquela era a canção de amor mais bonita que já tinha ouvido. O refrão, que repete “odeio você, odeio você, odeio você, odeio”, quando cantado, na região mais grave, sugere, ao invés da agressividade esperada, um sentimento de ternura; “parece um carinho”, explicou ele. O próprio Caetano declarou que quando compôs “Odeio”, de fato, pensava em como amor e ódio podem se converter facilmente um no outro: “quando você tem briga de amor, tem muitas raivas”, comentou em entrevista à revista Rolling Stone, na época do lançamento do álbum, em 2012.
A partir dessa observação, é possível pensar num eixo em que amor e ódio estão localizados em dois extremos de uma única mobilização afetiva. Em outras palavras, o ódio é o amor que recua, apesar de igualmente radical em sua paixão – sendo a indiferença, sim, o seu contrário. O refrão de Caetano tira proveito dessa ambivalência ao sintetizar em um só verso – “odeio você” – tanto a raiva do ódio (dito textualmente) como a ternura do amor (expresso na melodia e no “grão” da voz do cantor). O efeito, conforme as palavras do compositor, é poder “dizer o amor como ‘odeio’”.
Esse é o tema do conto “O búfalo”, de Clarice Lispector, de quem, a propósito, Caetano era leitor desde a adolescência, quando os primeiros textos da escritora foram publicados na revista Senhor. A história, incluída no livro Laços de família, começa inadvertidamente, como se os fatos já estivessem em andamento: “Mas era primavera. Até o leão lambeu a testa glabra da leoa”. Aos poucos, ficamos sabendo que a protagonista fora ao Jardim Zoológico para aprender com os animais a odiar, e tinha a intenção de matar. Sobre o motivo da insólita missão temos dois vagos indícios esparsos no texto. O primeiro, quando a narradora descreve brevemente a postura submissa da mulher frente ao namorado ou marido: “tudo estava preso no seu peito. No peito que só sabia resignar-se, que só sabia suportar, só sabia pedir perdão […]”. O segundo, quando, num rápido flashback, ela finalmente toma coragem para dizer a ele que o odiava – “‘Eu te odeio’, disse muito apressada”; no entanto, “não sabia sequer como se fazia. Como cavar na terra até encontrar a água negra”?
A briga do casal desencadeou o ímpeto assassino da mulher. Teria ido ela extravasar tiranamente nos bichos a raiva contida a que não conseguia dar vazão em seu relacionamento amoroso? Não sabemos tampouco por qual motivo ela acredita que a lição de ódio poderia ser aprendida com os animais; por sabê-los só instinto? Seja como for, ela percorre as jaulas uma a uma e, a cada tentativa, se frustra: os leões se lambiam e se amavam lassos; a girafa, tal qual o que é “grande e leve e sem culpa”, era tola e inocente; o “hipopótamo úmido” transmitia um “amor humilde em se manter apenas carne”; na jaula dos macacos, uma mãe dava de mamar ao filho e um macaco velho com catarata a mirava com doçura – a mulher, contrariada, desvia o olhar e foge. O bestiário ainda continua com o elefante, doce, de força esmagadora, mas que não esmaga; o camelo paciente de “cílios empoeirados”, e do quati o olhar infantil e indagador.
Até que a espiral de gradis faz a mulher perder o centro; já não sabe se está fora ou dentro das jaulas. Troca então de posição com o animal e passa de sujeito a objeto: “a testa estava tão encostada às grades que por um instante lhe pareceu que ela estava enjaulada e que um quati livre a examinava”. Em concerto com o comportamento animal, o movimento da natureza só lhe inspirava noções de gratuidade e doação: “tudo nascendo, tudo escorrendo pelo riacho”; “por puro amor nasciam entre os trilhos ervas de um verde leve tão tonto […]”. Em volta, tudo se opunha, portanto, a seu desejo de vingança.
Inconformada, caminha a esmo. Quando percebe, está no parque de diversões do Jardim Zoológico, na fila da montanha-russa, atrás de alguns casais de namorados. Chega sua vez e ela ocupa sozinha a cadeira. A situação ordinária deflagra uma relação insuspeita com a moralidade cristã: “parecia estar sentada numa Igreja”. Com a partida do trem, a personagem vive uma experiência física libertadora e sensorialmente vertiginosa (acompanhada formalmente, no texto, pela sequência de orações coordenadas que enumeram, com repetições, reminiscências, gritos e situações):
[…] de repente foi aquele voo de vísceras, aquela parada de um coração que se surpreende no ar, aquele espanto, a fúria vitoriosa com que o banco a precipitava no nada e imediatamente a soerguia como uma boneca de saia levantada, o profundo ressentimento com que ela se tornou mecânica, o corpo automaticamente alegre – o grito das namoradas! – seu olhar ferido pela grande surpresa, a ofensa, ‘faziam dela o que queriam’, a grande ofensa – o grito das namoradas! – a enorme perplexidade de estar espasmodicamente brincando, faziam dela o que queriam, de repente sua candura exposta.
Ao rodar no trem da montanha-russa, ela se torna mecânica como a máquina; despersonaliza-se. E perde a referência do chão. Sobre esse aspecto, é oportuno um comentário do escritor italiano Giulio Carlo Argan, no livro História da arte como história da cidade. Ao criticar a obsessão de arquitetos e urbanistas por uma cidade do futuro construída para que a vida ocorresse sobre superfícies elevadas, observa que a relação das pessoas com o espaço e entre si pressupõe o nível do chão como referência humanística. É somente a partir de um plano comum, argumenta, que cada homem ou mulher, no ato de girar em torno do próprio eixo, pode localizar-se, ao mesmo tempo, no centro do mundo e na periferia de seus semelhantes; estes, por sua vez, também centros de si mesmos e periferia dos outros.
A desumanização da personagem provocada pela experiência na montanha-russa pode ser igualmente entendida pela dilaceração do corpo – “foi aquele voo de vísceras”. A fragmentação da imagem do corpo humano – característica de movimentos vanguardistas do início do século XX, como o cubismo e o surrealismo – é expressão de recusa da visão elevada sobre o humano a favor de um baixo materialismo que aceita as forças obscuras da natureza. É o que Georges Bataille qualificou de “mal”, no conhecido livro A literatura e o mal, isto é, a ideia de uma vida desmedida, que se quer intensa e que, por isso, deve ser vivida na transgressão do bem e da moral associados à sua conservação.
Não por acaso, ao fim da experiência violenta na montanha-russa – que a expôs toda! – a personagem é devolvida à terra e à moralidade do chão humanista. Pálida, “fraca e difamada”, como se tivesse sido “jogada fora de uma Igreja”, ela ajeita “as saias com recato”, sem olhar para ninguém, como uma pária. Algo resta, no entanto, que fermenta dentro dela: “o céu lhe rodava no estômago vazio; a terra, que subia e descia a seus olhos, ficava por momentos distante, a terra que é sempre tão difícil”. É justamente na terra difícil – para a qual estende as mãos como um “aleijado pedindo” (ainda mutilada, portanto) – que ela seguirá, transformada pelo mal e por seu aprendizado de ódio junto aos animais. Afinal, revela-se o elo entre amor e ódio:
Então, nascida do ventre, de novo subiu, implorante, em onda vagarosa, a vontade de matar […] não era o ódio ainda, por enquanto apenas a vontade atormentada de ódio como um desejo, à promessa do desabrochamento cruel, um tormento como de amor, a vontade de ódio se prometendo sagrado sangue e triunfo, a fêmea rejeitada espiritualizara-se na grande esperança. Mas onde, onde encontrar o animal que lhe ensinasse a ter o seu próprio ódio? o ódio que lhe pertencia por direito mas que em dor ela não alcançava? onde aprender a odiar para não morrer de amor?
Na hiper-moral conquistada pela personagem, amor e ódio se igualam em intensidade e se tornam indissociáveis. Até então, ela só sabia suportar, “ter a doçura da infelicidade”. O ódio que tanto almejava era o mesmo que servia de matéria-prima para o seu perdão. Entre rompantes de ação e esmorecimento – o que demonstrava sua desorientação – encosta o rosto quente na fria e enferrujada barra de ferro da grade. O choque de temperatura e as texturas lhe provocam a sensação de ser odiada. Há um renascimento simbólico – “abriu os olhos devagar”, “certa paz enfim”, “de pessoa recém-morta”.
Por fim, chega à jaula do búfalo negro. Fixa o olhar nele – o animal a mira de volta. Atenta aos mínimos movimentos daquele “corpo enegrecido de tranquila raiva”, percebe que está sendo notada e queda absorta. Uma “coisa branca” se alastra por dentro dela – substância que se assemelha à “massa branca” vital comida por G.H. e expelida da barata como fruto maduro do horror, no livro A paixão segundo G.H.. “A morte zumbia nos seus ouvidos” como um sopro aliciador do mal – metáfora da vida vivida no risco. A partir de então, a personagem alcança uma espécie de pureza primordial. Com o rosto “coberto de mortal brancura”, sente dolorosamente o “primeiro fio de sangue negro” escorrer dentro de si: o ódio, enfim. O búfalo está de costas. Ela apanha uma pedra no chão e arremessa para dentro da jaula. Ele se volta para ela e, imóvel, a encara. É quando a mulher declara sua sentença:
Eu te amo, disse ela então com ódio para o homem cujo grande crime impunível era o de não querê-la. Eu te odeio, disse implorando amor ao búfalo.
A busca da personagem encontra seu termo no paroxismo: não o “puro amor”, incondicional, da natureza, que faz nascer “entre os trilhos ervas de um verde leve”, mas o amor entre a gente, que, para se realizar plenamente, exige seu revés: o ódio – de acordo com Freud, o afeto humano elementar, a partir do qual o amor se erige como constructo. O ódio também está na base da teoria política de Thomas Hobbes, no Leviatã, quando define a soberania. Segundo sua máxima, o homem, lobo do homem, teme a morte violenta e, por isso, o instinto de autopreservação, subsidiado pelo ódio ao outro, funda o estado regulador da vida coletiva. O amor próprio dá rigor à relação entre iguais. Contudo, é diante do búfalo – numa espécie de solenidade tauromáquica –, e não de outra pessoa, que a personagem se sente, ameaçada e ameaçadora, “presa ao mútuo assassinato”. Esse é o instante em que o ódio irrompe como impulso de autodefesa e ela sente raiva do que pode destruí-la. Ficamos sabendo aqui o motivo para a lição de ódio ter sido buscada no Jardim Zoológico. Se não se pode dar o nome de ódio para o que no animal é meramente instinto, é no chamado instinto animal do homem que reside o ódio. E o conto termina assim: a mulher cai no chão em lenta vertigem. Não se sabe se por morte ou desmaio. Mas não foi a morte – real ou metafórica – o norte desta história de amor?