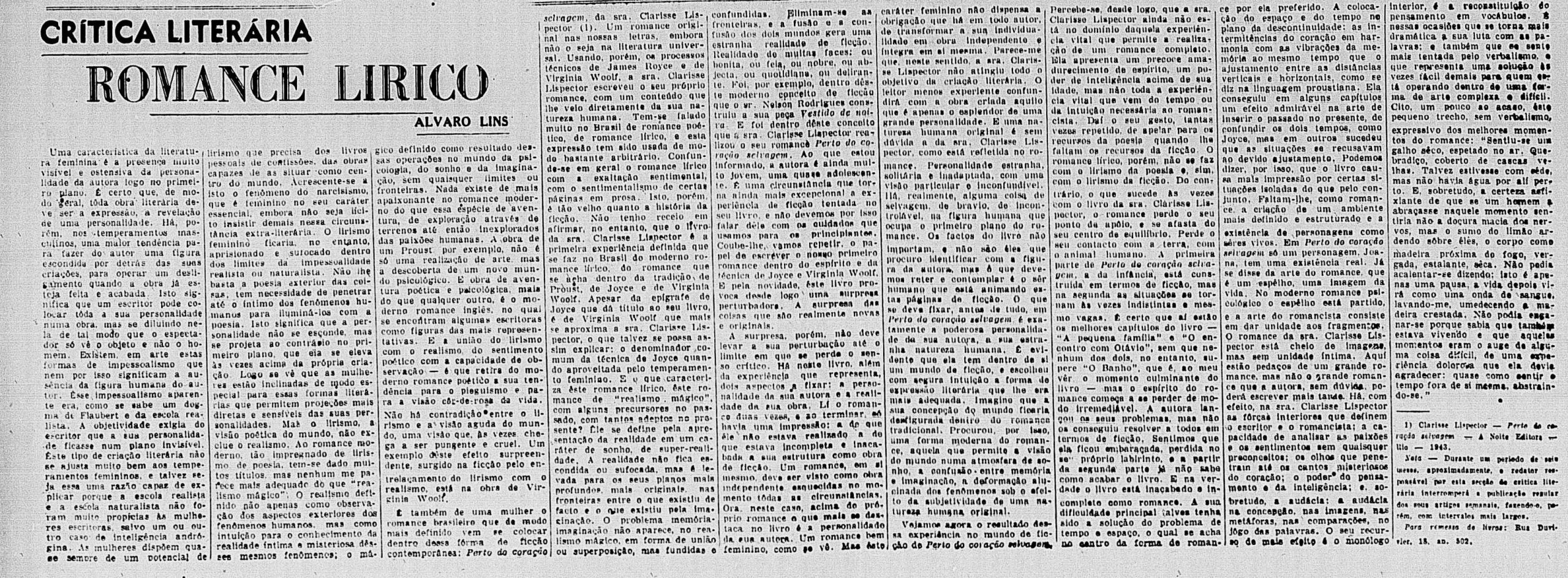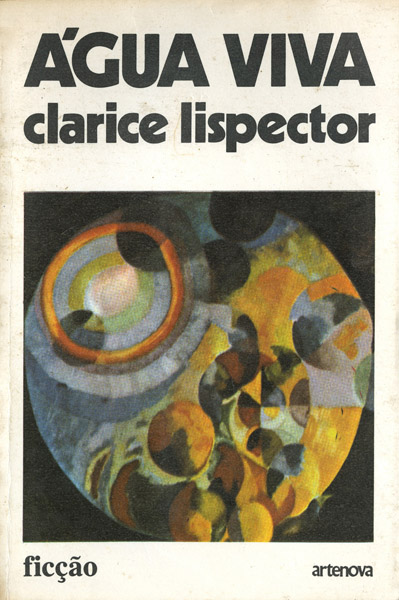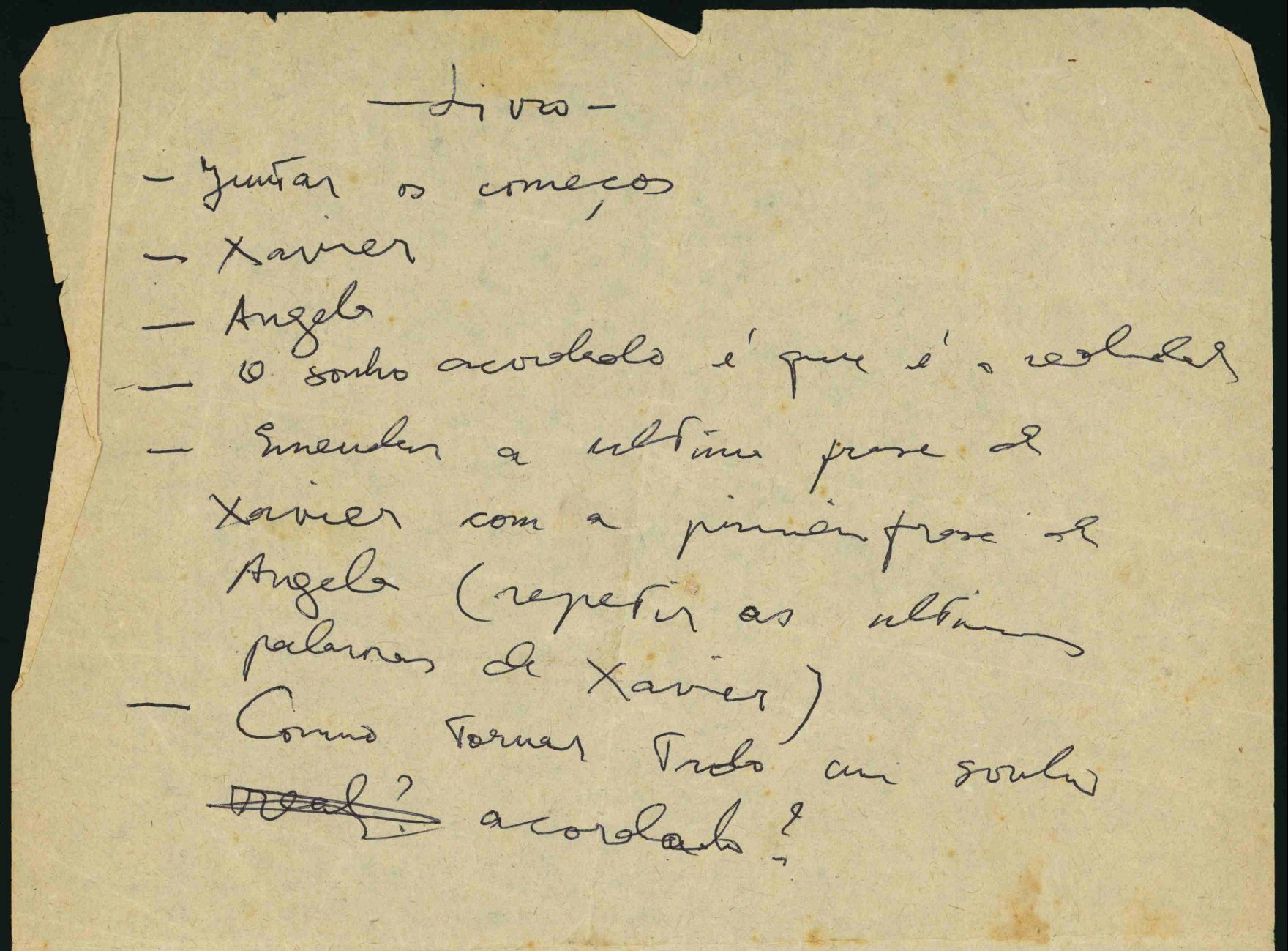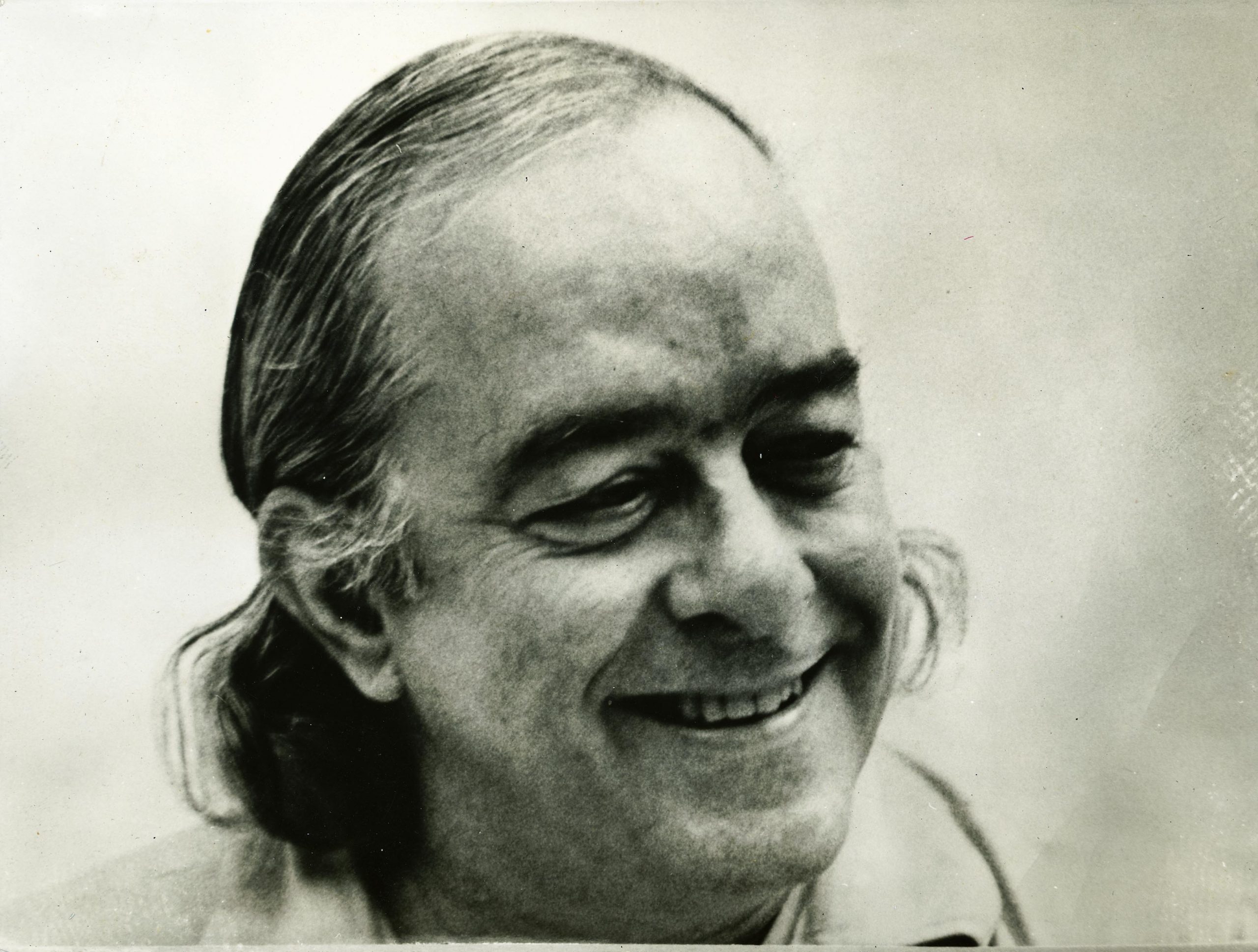, A sede do outro. IMS Clarice Lispector, 2019. Disponível em: https://site.claricelispector.ims.com.br/2019/09/24/a-sede-do-outro/. Acesso em: 15 dezembro 2025.
Todo ano, após o carnaval, tem início, no calendário litúrgico da Igreja Católica, a Quaresma, período em que os fiéis se retiram da vida mundana para se dedicar a sacrifícios, caridades e orações. Em 2018, o Papa Francisco convidou o padre e poeta português José Tolentino Mendonça para proferir a palestra que orientaria as reflexões da Cúria Romana sobre os desafios enfrentados pela Igreja naquele ano. O tema escolhido por Tolentino, nomeado arcebispo para a ocasião (e anunciado cardeal no dia 1º deste mês de setembro), foi a “sede de Jesus”. O texto da palestra foi publicado em livro, sob o título Elogio da sede (pela Quetzal, em Portugal, e no Brasil, pela editora Paulinas).
A apresentação começa com o episódio, descrito no Evangelho de São João, em que Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacob (João 4:5-24). Jesus fazia a travessia entre a Judeia e a Galileia, quando, cansado, para à beira do poço para descansar e a mulher chega ali para buscar água. Ele a vê e lhe diz: “Dá-me de beber”. Logo de início, Tolentino nos previne que não é de água a sede de Jesus; trata-se de uma sede maior: “a sede de tocar as nossas sedes, de contactar com os nossos desertos, com as nossas feridas”.
Se no poço de Jacob Jesus pede de beber à samaritana, no final das Escrituras, faz o contrário; se oferece, como fonte: “O que tem sede aproxime-se […]”, diz. E torna explícita a metáfora: “[…] beba gratuitamente da água da vida” (Apocalipse 22:17). O tema volta a aparecer, desta vez em forma de súplica, nas últimas palavras pronunciadas por Jesus na cruz. Ele diz somente isto: “Tenho sede”. Podemos, portanto, situar Jesus no meio do caminho: ele é tanto aquele que sacia a sede — com a “água da vida” (de sua vida) — como o que tem sede do outro. Ele atravessa e é atravessado. Está na encruzilhada.
Conectar com a nossa sede, observa Tolentino, ainda que não seja fácil, se torna indispensável para que a vida espiritual não perca o lastro com a realidade na qual a vida pessoal e biográfica está ancorada; antes, é preciso coragem para encará-la de frente, sem vícios de olhar e livre de idealizações. Reconhecer nossa sede é, por tudo isso, assumir uma falta que nos é constitutiva. É coragem de se reconhecer frágil.
Ainda de acordo com Tolentino, escritores e poetas são potenciais mediadores entre as pessoas e suas sedes. Por três motivos, lista: a literatura se apresenta sem visões compartimentadas, como uma “metáfora integral da vida”; nos passa um conhecimento advindo da experiência concreta e não conceitual; e, por fim, contra as aparências forjadas socialmente, afirma a singularidade radical da existência. Posto isto, para ilustrar o efeito revigorador das letras na vida espiritual, cita um longo trecho, de que reproduzo apenas uma pequena parte, da crônica “Um ato gratuito”, de Clarice Lispector”, incluída no livro Todas as crônicas (2018):
Uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu escrevendo à máquina — quando alguma coisa em mim aconteceu. Era o profundo cansaço da luta. E percebi que estava sedenta. Uma sede de liberdade me acordara. Eu estava simplesmente exausta de morar num apartamento. Estava exausta de tirar ideias de mim mesma. Estava exausta do barulho da máquina de escrever. Então a sede estranha e profunda me apareceu.
Cabe observar uma coincidência entre a cena do encontro de Jesus com a samaritana e a de Clarice. Em ambas, há um mesmo ponto de inflexão: é o cansaço que faz irromper a sede. Da mesma forma que a sede não é somente de água, o cansaço tampouco é apenas físico; ele ganha uma dimensão existencial: estafa generalizada, oriunda de uma rotina que, por força do hábito, tende a embotar a fruição imediata com as coisas do mundo — e “o prazer é o máximo da veracidade de um ser. É a única luta contra a morte”, reivindica a personagem Ângela, de Um sopro de vida (1978).
A crônica citada por Tolentino faz par com o conto “Amor”, publicado pela primeira vez no livro Laços de família (1960). Tanto em um como no outro, o parque do Jardim Botânico — com seus troncos nodosos, pássaros voando, sombras oscilantes e secretas — é o lugar de escape do cotidiano utilitário, que vai religar a cronista Clarice (ou a personagem Ana) ao mistério da vida e à própria liberdade. O arrebatamento se dá por uma perturbação dos sentidos. Na crônica, ela escreve: “Eu ia ao Jardim Botânico para quê? Só para olhar. Só para ver. Só para sentir. Só para viver”; a espiral sinestésica se acentua até a fusão com a natureza circundante e sua despersonalização: “o resto era o verde úmido subindo em mim pelas minhas raízes incógnitas”.
Ao acaso, ela encontra um chafariz com o rosto talhado em pedra. Não apenas cola sua boca à da estátua e bebe avidamente a água que jorra sem parar, como também se molha toda — “esse exagero estava de acordo com a abundância do jardim”, justifica. Nota-se que a opulência do jardim se coloca em frontal desacordo com o princípio fundador da ciência econômica, isto é, a escassez de recursos, que tem como corolário a lei da oferta e da demanda, modelo para a determinação de preços e propulsora do jogo competidor capitalista. Em meio à natureza exuberante, ao contrário, tudo era farto e gratuito.
Situação semelhante ocorre no conto “O primeiro beijo”, do livro Felicidade clandestina (1971). Um jovem casal em início de namoro está em um ônibus, no que aparenta ser uma excursão escolar. O clima é ameno e eles desfrutam da fresca presença um do outro. À certa altura, a menina pergunta ao namorado se ele já tinha beijado outra mulher antes dela. Sem maiores explicações, ele diz que sim. Ela quer saber quem. Ele se atrapalha para responder e, numa espécie de fuga, entra em modo de suspensão contemplativa — “apenas sentir era tão bom”.
Uma sede irrompe então abrupta. O incômodo com a falta de água vai aumentando: “sede enorme maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo”. O calor e o vento — que se convertera em “vento de deserto” —, embora suportados diligentemente, acentuam o mal-estar do rapaz na mesma medida em que seu “instinto animal” intui o frescor da água “na curva inesperada da estrada”. Era uma questão de tempo, “talvez minutos apenas, talvez horas, enquanto sua sede era de anos” — Clarice redimensiona a sede para além do motivo particular da trama.
Finalmente, o ônibus para e, antes dos colegas e da namorada, ele consegue ser o primeiro a chegar “ao chafariz de pedra”. Fecha os olhos e cola sua boca “ao orifício de onde jorrava a água”. Dá o primeiro gole: “Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar”. Quando abre os olhos, percebe que sua boca está colada à boca de uma estátua de mulher e afirma para si mesmo, confuso: “mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida…”.
Nessa passagem, a água que jorra “de uma boca para outra” se transfigura em vida, assim como na oferta de Jesus a seus seguidores: “O que tem sede aproxime-se e […] beba gratuitamente da água da vida”. Entretanto (e é isso que deixa o menino “confuso na sua inocência”), na história de Clarice, “o líquido vivificador” não é o sêmen masculino, mas brota dessa espécie de mulher arquetípica — materializada na condição dura da pedra — capaz de atravessar, imperturbável, séculos e civilizações.
Ao flagrar a estátua em sua nudez, percebe que a havia beijado. Entra em um estado de desorientação próprio da experiência extática: encontra-se perplexo, “de pé, docemente agressivo”, com o coração palpitando fundo, “num equilíbrio frágil”; sente a vida se transformando, em sobressalto. A verdade que emerge de dentro dele ficamos sabendo ser o termo de um processo iniciático: “ele se tornara homem”. Tal como a mulher de pedra, o rapaz também perde sua individualidade para indiferenciar-se na figura do homem genérico, o mesmo riscado a carvão ao lado da mulher e do cachorro, como vestígios rupestres, pela empregada Janair, em A paixão segundo G.H. (1964): “Na parede caiada, contígua à porta — e por isso eu ainda não o tinha visto — estava quase em tamanho natural o contorno a carvão de um homem nu, de uma mulher nua, e de um cão que era mais nu do que um cão”.
*
Oferecer-se ao risco da experiência é também colocar-se em posição de vulnerabilidade em relação a sentimentos de alegria e tristeza a que estamos expostos na vida. Entretanto, se a tristeza persiste e não conseguimos contê-la, nossa energia vital vai sendo minada pouco a pouco. A tristeza, antes de caráter circunstancial, se transforma em acédia, estado de ânimo que, conforme a explicação de Tolentino, pode ser percebido “como uma indiferença, uma falta de presença e de interesse, uma perda do gosto de viver, uma desvitalização interior que se traduz num fechamento, negligenciando a chamada do presente”.
Ainda para Tolentino, a acédia — ou a depressão, nome usado hoje em dia para o mal — sobrevém quando renunciamos à sede; abandonamos nossos desejos e, desse modo, compactuamos com a morte. Embora a medicina contemporânea tenha passado a tratar a doença alopaticamente — e sem prejuízo desse tipo de procedimento —, trata-se, acredita, de um distúrbio de origem igualmente espiritual, cuja “fonte radica no mistério da solidão humana”.
Sobre essa questão, outra coincidência pode ser notada nas histórias narradas por Clarice e por João Evangelista. Em uma e em outra, há referências ao momento do dia em que a sede aparece. É meio-dia. Ou: a hora sexta — quando, segundo acreditavam alguns padres da Idade Média, surgia a figura do “demônio do meio-dia” para aliciar os bons espíritos dedicados à ascese moral. O receio dos religiosos não era infundado, pois, conforme explica Giorgio Agamben, no livro Estâncias, uma das características notórias da melancolia era o desregramento erótico, que assumia, para alguns, como a monja beneditina e médica Hildegard von Bingen, o “aspecto de um transtorno sádico e selvagem”.
O pensador italiano observa ainda que existia desde Aristóteles uma tradição que costumava associar o humor negro ao pendor para a poesia e para as artes. Assim, estabeleceu-se uma associação ambivalente entre a contemplação e o abatimento, que, a partir da filosofia dos primeiros padres católicos, ganharia relevância no imaginário renascentista. A melancolia passaria a signo reversível, como duas faces de uma mesma moeda, pois admitiria propensões contrárias sob o mesmo diagnóstico. Tal identificação está, para Agamben, entre “os mais surpreendentes resultados da ciência psicológica medieval”, uma vez que “a retração do acidioso não delata um eclipse do desejo, mas sim o fato de tornar-se inatingível o seu objeto: trata-se da perversão de uma vontade que quer o objeto, mas não quer o caminho que a ele conduz e ao mesmo tempo deseja e obstrui a estrada ao próprio desejo”. O paradoxo reside portanto no fato de que o desejo não cessa, mas o ânimo para a busca de sua realização, esse sim, esmorece — o desejo “se comunica com seu objeto sob a forma da negação e da carência”, conclui.
Nesse jogo de cara ou coroa, como fazer virar para cima a face positiva da melancolia?
Voltemos ao meio-dia — “é a hora central do dia, o ponto que determina a passagem de uma parte a outra da jornada. O meio do tempo assinalando um antes e um depois. O meio do caminho ou a encruzilhada da vida”, afirma Tolentino, investindo o termo de um sentido que extrapola o estritamente cronológico. É o momento em que, na imagem contundente de João Cabral de Melo Neto, “[…] o sol é estridente,/ a contrapelo, imperioso,/ e bate nas pálpebras como/ se bate numa porta a socos” (“Graciliano Ramos”, em Terceira feira, 1961).
Está subjacente nos versos do poeta pernambucano a insurgência de um despertar de ânimo que, todavia, como explica Agamben, resta dormente no estado melancólico. O sol insidioso do meio-dia — o demônio meridiano dos padres medievais — é portanto o mesmo que, “estridente, a contrapelo”, contém o antídoto indefectível contra a letargia — bate nas fragilíssimas pálpebras com a violência desmedida de um imperativo ético: o primado da alegria.
Para fazer virar para cima a face positiva da melancolia, José Tolentino lembra da proposta elaborada por Simone Weil de uma “educação do desejo”. Ensina ele: é preciso não ceder à tentação das substituições e aprender a permanecer “na falta, na incompletude, no vazio e na espera”. E continua: não é nosso desejo que alcança Deus, mas “se permanecermos sedentos e desiderantes é o próprio Deus que desce à nossa humanidade para encher de plenitude o nosso desejo”.
Não poderia deixar de notar a semelhança entre a imagem acima — do “Deus que desce à nossa humanidade para encher de plenitude o nosso desejo” — e o “estado de graça”, definido por Clarice na célebre crônica de mesmo nome, também incluída em Todas as crônicas (2018). A escritora brasileira fala em “anunciação” — “como se o anjo da vida viesse me anunciar o mundo”;
[…] há uma bem-aventurança física que a nada se compara. O corpo se transforma num dom. E se sente que é um dom porque se está experimentando, numa fonte direta, a dádiva indubitável de existir materialmente. […] No estado de graça vê-se às vezes a profunda beleza, antes intangível, de outra pessoa. […] E exatamente porque depois da graça a condição humana se revela na sua pobreza implorante, aprende-se a amar mais, a perdoar mais, a esperar mais.
Clarice adverte que a graça não se espera: “só vem quando quer e espontaneamente”. No entanto, pode-se dizer que há um estado de abertura, em que a pessoa se coloca disponível para recebê-la. Tolentino, em outro livro, A mística do instante (2016), sugere como fazê-lo, ao mesmo tempo que, sem a intenção, joga luz sobre um dos motivos mais recorrentes da obra de Clarice. Diferentemente da mística entendida como auscultação do mistério (de Deus) na interioridade do ser, Tolentino propõe uma mística intermediada pelo corpo e aberta ao imponderável de cada instante. A via de acesso ao divino passa, assim, pela experiência direta com as pessoas e o mundo material e cotidiano. Trata-se de uma mística sensual, que só pode ser encontrada no momento presente, que é sempre o meio do caminho, nunca o fim.
*
Como epílogo, transcrevo um trecho da crônica “Prece por um padre”, de Todas as crônicas (2018). Clarice, aceitando, por hipótese, o título de mestre espiritual conferido por Tolentino a ela e aos escritores em geral, repete o gesto do sacerdote português a seus colegas da Cúria Romana e dedica a um padre anônimo (que lhe teria pedido para rezar por ele) este emplasto religioso contra a morte:
Uma noite gaguejei uma prece por um padre que tem medo de morrer e tem vergonha de ter medo. Eu disse um pouco para Deus, com algum pudor: alivia a alma do Padre X…, faze com que ele sinta que Tua Mão está dada à dele, faze com que ele sinta que a morte não existe porque na verdade já estamos na eternidade, faze com que ele sinta que amar é não morrer, que a entrega de si mesmo não significa a morte, faze com que ele sinta uma alegria modesta e diária, faze com que ele não Te indague demais, porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta, faze com que ele se lembre de que também não há explicação porque um filho quer o beijo de sua mãe e no entanto ele quer e no entanto o beijo é perfeito, faze com que ele receba o mundo sem medo, pois para esse mundo incompreensível nós fomos criados e nós mesmos também incompreensíveis […].
Quando os mistérios se tocam — a pletora erótica de um beijo perfeito do filho em sua mãe — é que a vida, para além de qualquer entendimento, vibra a esmo — de alegria.
*Foto: Clarice, aos dez anos, no jardim Derby, veste luto pela morte da mãe. Recife, 1930. Acervo Clarice Lispector/ IMS.